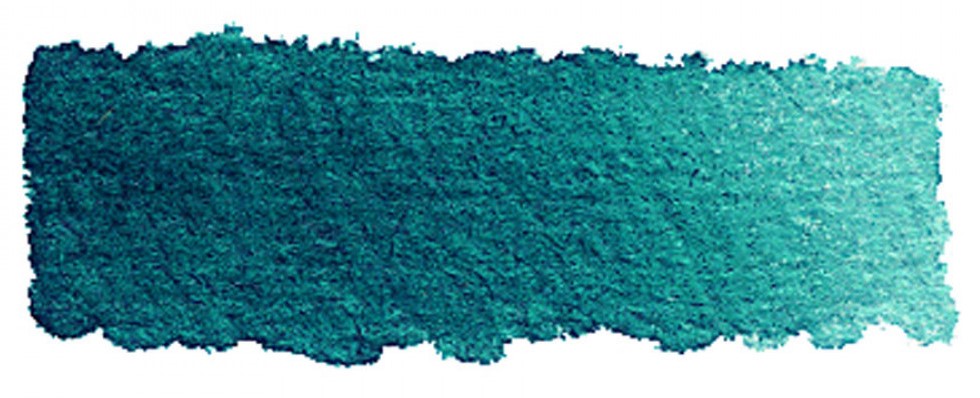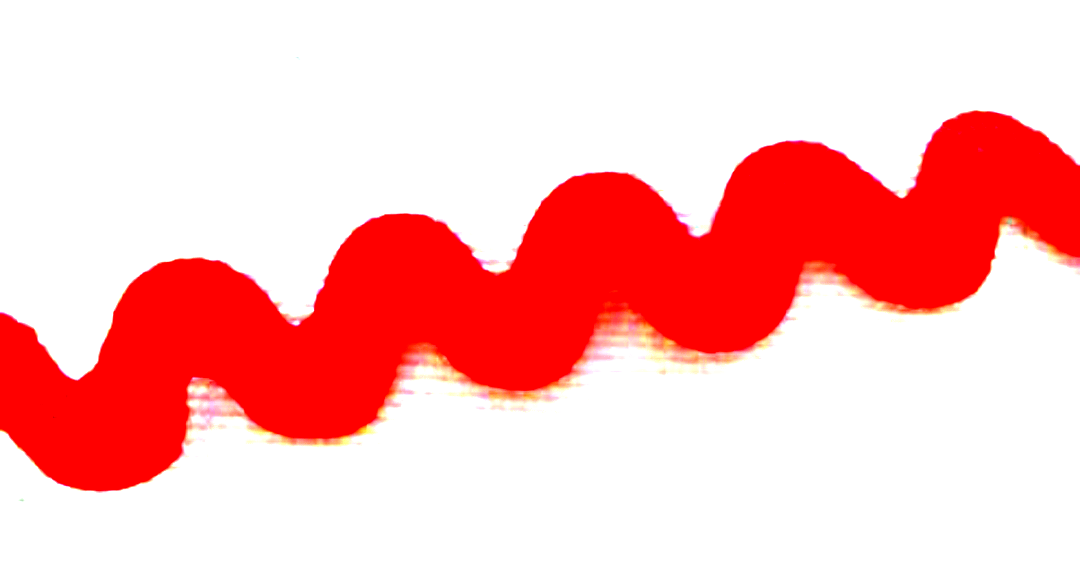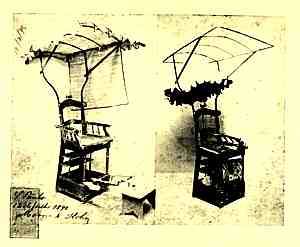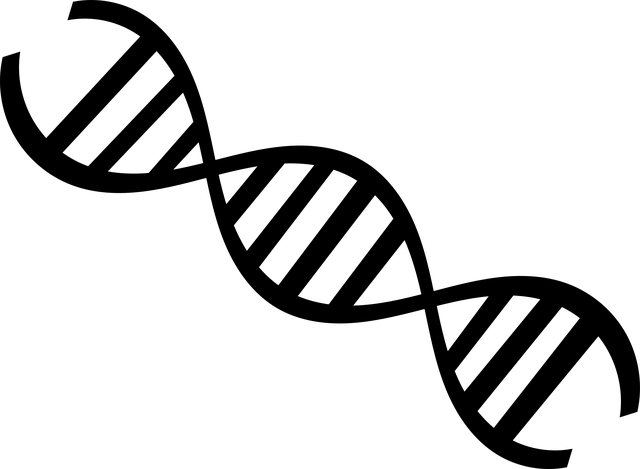Deitei os olhos na fotografia de quando eu era em preto-e-branco.
É do sofá listrado que vou dizer. Embaixo do assento havia uma espécie de baú para guardar coisas. A gente o erguia e uma travinha fazia ‘clec’, mantendo-o aberto. Ali dentro, antigos cadernos escolares de nós três, provas de matemática, pastas coloridas com dobradura para o dia do índio, bandeira do Brasil pintada com lápis de cor, gibis e papéis que não contaram com destino melhor, reunidos em caótico acervo.
Essa era, aliás, uma característica da nossa casa. Uma gaveta dando sopa, um pedaço de armário, tudo virava abrigo para objetos aleatórios e quase sempre inúteis, como uma escova de cabelos quebrada, uma tampa órfã de caneta, um anelzinho de plástico que viera de brinde no chiclete Ping-Pong. Uma desorganização doméstica aparentemente inofensiva, a revelar o estado das coisas na casa de número um da vilinha da rua Natal.
De tempos em tempos, eu passava horas fuçando nossas lembranças impressas, no porão do sofá listrado. Se eu estava, por exemplo, na quinta série do ginásio, e encontrava um caderno do segundo ano primário, apesar de apenas três anos os separarem, ele já era considerado uma antiguidade. Antiguidade, hoje, é topar com algo de trinta anos atrás. Três anos? Foi ontem, oras. Gostava de folhear o caderno, comparar minha caligrafia de então com a anterior, reler os ditados de português, relembrar o nome da professora, observar meus desenhos. Eu me tornava uma criança encantada com a minha criança.
Quando trocamos o velho sofá por um mais moderno, sem listras, notei: cadê o baú? Não tinha. Onde ficaria nossa bibliobarafunda?
Meu reino para rever, hoje, aquela coisarada. Uma vezinha só. Folhearia meus cadernos e ficaria com vontade de abraçar a menina que fui. Alcançaria os gibis da Turma da Mônica, leria alguns do Tio Patinhas. Nas últimas páginas, a seção de cartas dos leitores-mirins que queriam se corresponder com outras crianças. Sempre prestei atenção aos seus nomes e endereços. Lembro que, um dia, me surpreendi ao ver a cartinha de uma menina (eu não a conhecia) que morava perto da minha casa. Não escrevi para ela. Que adultos se tornaram aquelas crianças?
Além do velho sofá listrado, queria escrever de novo na Olivetti Lettera, que a gente colocava sobre a mesinha de centro da sala e de onde saíram tantos trabalhos de escola, e também meus primeiros e tímidos escritos. Queria o Tommy no colo mais uma vez. Gato bonito, embora vivesse estropiado de tanto brigar com outros bichanos nos telhados. Nunca mais tive cabelos tão compridos assim. Queria reviver a fotografia inteira, com a estante que não aparece, a TV, o som, os duzentos LPs, o relógio cuco. Quem fez o clique?
Parte da minha vida cabe num baú de sofá. De tempos em tempos, ergo o assento, uma travinha faz ‘clec’, deixo-o aberto. Então vou revendo, em recordações listradas de saudade e melancolia, tudo que guardei ali.