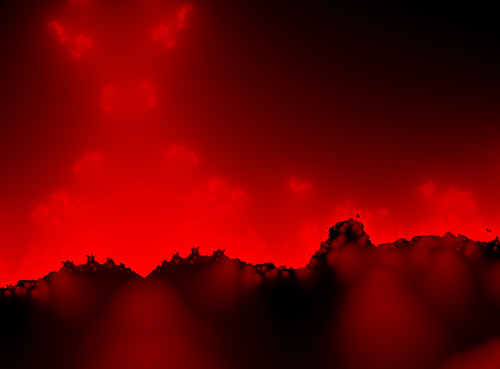Cresci ouvindo falar em café tipo exportação. Laranja tipo exportação. Castanha de caju. Gasolina. Mulata.
Depois entendi.
Tipo exportação é quando a gente faz uma coisa que é bacana, mas precisa torná-la mais bacana, praticamente excelente, para poder vendê-la para outros países. (Entendi também que a mulata não deveria estar na lista.)
Ou seja: para fora, segue sempre o melhor.
Para dentro, não precisa ser o melhor. O bom já serve. O possível, o que dá.
Tem horas que concluo: eu sou uma pessoa tipo exportação.
Sou bacana, mas sou mais bacana ainda, praticamente excelente, para os outros. Sei dedicar carinho e atenção e gentileza às pessoas da minha família, as “de dentro”, mas acabo fazendo isso melhor para as de fora. As dos outros lares que fazem fronteira com o meu. Um lar é um país.
Tem dias que solto os cachorros em casa. Vocifero, esbravejo, surto por tudo e por nada.
Porém, se no instante de fúria doméstica o interfone toca e eu atendo, a voz recupera a maciez, “Tenho, sim, um ovo para emprestar. Levo aí!”. É a minha gentileza tipo exportação.
Quem nunca cuspiu fogo quando o namorado ou namorada faz um comentariozinho qualquer, questionando, por exemplo, seu empenho para arrumar emprego? Se, no entanto, é o professor da faculdade que lhe cutuca, além de aceitar a observação, agradece pelo toque… É a maturidade tipo exportação.
Nessas horas evoco Cazuza em livre e desesperada adaptação: por que que a gente é assim?
Se para a família e pessoas íntimas deveríamos, em tese, oferecer sempre o nosso melhor, o nosso excelente. Mas não. Estamos muito à vontade para escancarar nosso lado B. Mesmo que o preço seja uma carinha com superávit de tristeza no fim do dia.
Bom mesmo é ser do tipo importação. Do tipo “eu me importo com você”. Faz bem às relações. Até as internacionais.