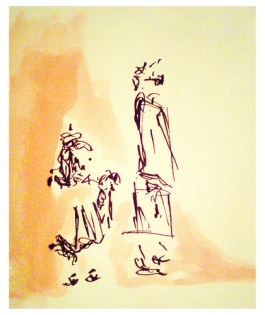Era grandinha, já, quando liguei os pontos: o nome do meu avô vinha do nome do feriado do coelhinho.
Cresci chamando e falando do Vô Paschoal, sem nunca juntar lé com cré. O que não fez, depois, a menor diferença. Uma coisa era o dia de ganhar ovos de chocolate; outra, completamente distinta, era meu avô. O filho de imigrantes italianos, de sorriso largo e gargalhada fácil. Torcedor inabalável do Palmeiras. Que mal sabia escrever, mas dominava os números. Que todo santo dia, depois da laranja finalizadora do almoço, tirava a sesta, sentado na poltrona, braços cruzados sobre o peito. Que inventava traquitanas, elétricas e mecânicas, para tudo em casa. Que perdeu parte do dedo em um acidente de trabalho nos Moinhos Minetti Gamba, na Mooca, e eu tinha certa aflição daquele toco sem unha. Que gostava de gato e cachorro, mas fazia de conta que não, porque minha avó detestava. Que ia em duas feiras diferentes, só para aproveitar os preços das frutas. Que pegava o carrinho de mão e saía para comprar tijolo e cimento e areia na Casa São Pedro, na rua Teresina. Que tinha um exército de santos num altar sobre o guarda-roupa, iluminado com um sistema que ele próprio instalara, e que eu morria de medo. Que nunca ficava doente. Que subia no telhado para verificar as calhas, mesmo depois do 90º aniversário, e nunca aconteceu nada, porque os anjos todos eram seus chapas. Que morreu numa véspera de Carnaval. E não de Páscoa.
Sendo assim, esta não é, nem de longe, uma história de Páscoa. Não deixa de ser, no entanto, pascoalina. A língua tem seus caprichos.
Meu avô tinha um armário cheio de ferramentas e uma pequena bancada de trabalho no nosso quintal. Eu era encantada com a morsa. Um dia, lhe pedi madeira, serrote, prego e martelo. Queria fazer uma cama para minha boneca Vivinha. Ele parou seus afazeres – ele sempre tinha afazeres, não parava quieto – e providenciou. Ensinou-me a usar os aparatos todos. Não sem algumas bufadas impacientes quando eu fazia algo errado, como entortar prego ou serrar fora da marcação.
Eu não tinha ideia da beleza daquilo: avô e neta martelando, serrando, construindo juntos. A gente nunca sabe direito a real importância das coisas. Só quando elas vão parar, feito quadro raro, na galeria da memória.
Depois da caminha, peguei gosto e o resto da mobília da boneca veio: armário, sofá, mesa, cadeira. Não podia ver um toco de madeira dando sopa. Tão fácil, a marcenaria! Não ficava perfeito, nem muito bonito, é verdade. Mas a Vivinha até que levava uma vida confortável.
Eu devia ser a única garota da escola que tinha, à disposição, um arsenal ferramenteiro daquele em casa. E um avô talentoso, apelidado pelas primas de Professor Pardal. Em paralelo às bonecas e coleção de papéis de carta decorados, eu também me divertia com porcas, parafusos, brocas, limas, colher de pedreiro, enxada, cal, cimento, brita, gesso. Sabia a diferença entre chave de fenda e de boca. Lugar de menina também é, por que não?, na oficina.
Meu avô me chamava de “joia rica”. Achava engraçado. Não era nem joia, tampouco rica. Carinhoso a seu modo, ele afagava meus cabelos e ria das minhas molecagens. Embora não fizesse questão de esconder: o preferido era meu irmão mais velho. Primeiro e único neto homem. Ganhou uniforme completo do Palmeiras quando pequenininho. Minha irmã e eu, não. Porque menina não jogava futebol. Mas podia brincar com serrote e plaina e parafuso à vontade. Pirraça inconsciente ou não, fui corintiana por alguns anos.
Seu Paschoal era dono de coração enorme, simpatia maior ainda. Religioso, era grato à vida simples que tinha. Onde quer que tenha renascido, está contando piada, ajudando alguém ou inventando alguma engenhoca.
Desconfio que o feriado é que leva o nome do meu avô, e não o contrário.