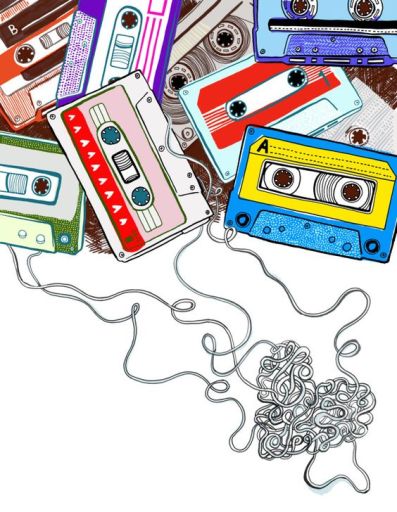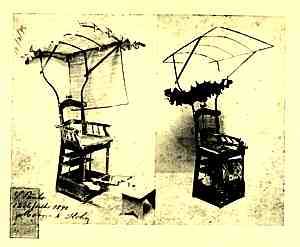Ilustração: Eurritimia/Flickr.com
Ilustração: Eurritimia/Flickr.com
Dona Irene foi professora da minha irmã em 1968. Ela tinha seis anos e estreava na escola. Como as primeiras coisas da vida geralmente ganham título de inesquecíveis – a exemplo de sutiã, emprego, beijo, carro –, com professor não é diferente. Salvo raras exceções, ele, que na maioria dos casos é ela, ganha aura especial, etiqueta de nobreza e carinho sem fim até o fim da existência. E, de vez em quando, acalenta no ex-aluno a questão: “Por onde andará?”.
Caso minha irmã tenha se perguntado isso algum dia, a resposta chegou via cabo, quarenta anos depois. Em sua casa, ela atendeu a um telefonema. Era a Dona Irene.
Não a descrevo porque não a conheci. E esqueci-me de perguntar à minha irmã, quando me contou. Mas vamos imaginá-la uma típica professora dos anos 60: cabelos presos, óculos, saia-lápis bem cortada. Além, claro, das mãos firmes e doces a guiar as dos pequeninos, e todos os demais predicados que uma docente deveria ter. Um personagem querido, enfim.
Prosearam uma prosa boa, as duas. Ela se emocionou ao saber que minha irmã havia se formado (sua missão estava cumprida), tinha dois filhos e estava feliz. Repassaram quatro décadas em poucas dúzias de minutos, com uma riqueza impressionante de detalhes, lembrados pela professora. Perguntou, citando nomes, pelos meus pais, meu irmão mais velho, que também fora seu aluno, e até por mim, que tinha um ano de idade, ou nem isso, na ocasião das aulas. Um caso de memória excepcional? Claro que não.
Concluímos, minha irmã e eu, que Dona Irene mantinha naqueles tempos um caderninho com informações sobre seus alunos. Nome completo, série, um ou outro detalhe… se era loiro, moreno, falante, tímido, inteligente ou sofrível. Coisa de uma jovem e zelosa professora que deseja guardar seus minialunos na lembrança. E, continuando o raciocínio, aconteceu do caderninho sobreviver ao tempo. A gente não guarda os nossos, do primeiro, segundo, terceiro ano? Professor também mantém suas relíquias escolares, diferentes das dos alunos. Quem sabe, Dona Irene vislumbrasse nele alguma utilidade no futuro. Quem sabe.
A nostalgia escorria pelo telefone, invadia o pensamento da minha irmã. Sua primeira professora, ali, do outro lado da linha! Como estaria seu rosto? E suas mãos, aquelas que lhe ensinaram as primeiras letras? Seria Dona Irene grande como parecia para minha irmã, em seu metro e alguma coisa de altura? Minha irmã se viu, ao mesmo tempo, em duas dimensões, passado e presente, a criança que gostava de andar com os pés dentro do bule e a mulher que se especializou em encontrar antepassados na internet. No meio de tudo, como num filme em fast-forward, relances da velha escola com seus pinheiros bem cuidados por Seu Teodoro, o jardineiro; a hora do recreio e o lanche preparado pela nossa mãe; o uniforme, os cadernos, as ingênuas composições sobre passarinhos que não têm peso na consciência, as tabuadas.
Lá pelas tantas, Dona Irene revelou o motivo da ligação.
A professora aposentada tem uma irmã, candidata a algum cargo político na cidade – vereadora, deputada ou coisa assim – numa dessas eleições. Sim. Dona Irene ligara para sua ex-aluna, que não via há quatrocentos e oitenta meses, para pedir voto.
Dona Irene deve ter tido um trabalhão para encontrar minha irmã. Consultado listas telefônicas do estado de São Paulo inteiro. Ligado para várias homônimas até achá-la. Crente que um voto pode fazer toda diferença.
Dona Irene, melhor pensar assim, não guardou o tal caderninho (se é que ele existe) com esse propósito. Se eu lecionasse, também gostaria de manter um banco de dados dos meus alunos, apenas para poder me lembrar deles depois. Um professor nunca sabe se, da sua turma, surgirá um gênio, uma lenda, um presidente da república. Já imaginou o orgulho?
Dona Irene, no entanto, parece ter encontrado uma utilidade para seus registros, onde e como quer que eles tenham sido salvos. Mas, cá entre nós, ela não precisava da artimanha. Distribuísse cem mil santinhos da irmã candidata e pronto. Passado bom não se revira.
Despediram-se, cada uma foi tratar de seus afazeres. A professora deve ter continuado a campanha com o próximo da lista. Minha irmã talvez tenha ido buscar a pizza na portaria, dado comida aos gatos ou sentado no sofá para assistir Friends.
Dona Irene, um quase-mito de infância para minha irmã, perdeu a oportunidade de perpetuar-se no rol das celebridades afetivas dela e de, quantos?, outros alunos daquela época, que também devem ter recebido sua intrigante ligação, mais de quatorze mil dias depois do último dia de aula.
Dona Irene, despejada do Olimpo, ingressara no mundo dos mortais. Dos pobres – e inconvenientes – humanos que pedem voto.
.
[Nota: nem ia postar, dado o tema (escola) ter invadido o noticiário de maneira tão chocante e triste. Mas esta crônica já estava pronta. Paz para os jovens da escola em Realengo, no RJ, vítimas do massacre. Paz para seus pais. Paz para seus professores.]