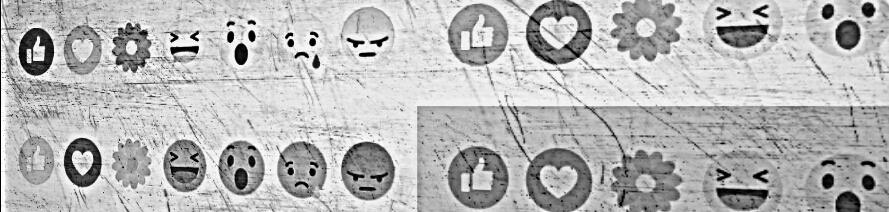Foto: Maria Guimarães/Flickr.com
Foto: Maria Guimarães/Flickr.com
P. tem cuidado muito dos santos, ultimamente. Os santos da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, que há tempos precisavam de um carinho. A pequena igreja, feita de taipa de pilão e tombada pelo patrimônio histórico, fica escondidinha no centro de São Paulo e agora está sendo restaurada. Era ali que, antigamente, os escravos condenados davam uma passadinha para rezar, antes de serem enforcados em praça pública, ali perto, onde hoje fica o Largo da Liberdade. Daí o nome da igreja. Pois tudo o que aquelas pessoas poderiam pedir, àquela altura do campeonato, era uma boa morte.
Eu conheci P. no final dos anos oitenta. É uma mulher bonita, alta, magra, esguia, criativa e inteligente. Naquela época, sem noção de sua beleza (ou talvez ciente demais), se escondia nos jeans, camisetas, sapatos sem salto e na ausência do batom. Mesmo assim, chamava a atenção por onde passasse. P. cozinhava, costurava, tricotava, gargalhava, dançava. Dona de um fino senso estético sobre todas as coisas, conversava coisas incomuns e amava intensamente seus amores. Ficou viúva. No velório de T. eu a abracei forte. Seu olhar pedia que eu lhe dissesse o que seria dela daquele dia em diante. Não pude atender minha grande amiga naquela hora: eu não sabia.
O ofício de P. é restaurar objetos que já viveram demais, e que precisam continuar vivendo. Para que, de certa forma, eles expliquem nossa vida, de onde viemos e como chegamos até aqui. Os santos dessa igreja, em especial, devem ter muita história pra contar. Quanto desespero devem ter visto, quanto apelos devem ter ouvido. No entanto, imóveis em sua santice de barro, louça ou madeira, pouco podiam fazer pelos condenados.
P. chegando pela manhãzinha em seu ateliê. Ela diz “bom dia” aos seus santos e se prepara para o trabalho. Um nariz quebrado, um manto puído. Enquanto mexe aqui e ali, vai ouvindo os pequenos e gelados amigos contando coisas do passado. E quando volta para sua casa, à noitinha, certamente chora por tudo que ficou sabendo.
Há nove anos P. e eu não nos vemos. Três anos atrás encontrei, por acaso, um endereço seu, perdido na agenda. Escrevi. Ela respondeu, atualizamos a amizade, o carinho, as saudades e as novidades. E mais uma vez nos distanciamos. Agora, vez por outra nos damos um alô.
P. também costuma recolher bichos abandonados. Os mais recentes – uma cadelinha doente e um gatinho – foram resgatados do Centro de Controle de Zoonoses. Um nobre ato de misericórdia, posto que os animais que vão parar lá e não chegam a ser adotados sequer têm uma igreja aonde possam fazer uma última reza antes do sacrifício. Cujo método, tirante a semelhança da crueldade, chega a ser mais moderno que os enforcamentos dos nossos ancestrais.
Semana passada, após um bom período de silêncio e às voltas com a santaiada da igreja, ela me escreveu:
“Imagine você, que eu estava aqui retocando (vamos ser mais técnicas: reintegrando a policromia) e, olhando as mãos da santa, lembrei das tuas: tão branquinhas! Tem até umas manchinhas como se fossem sardas…”
A lembrança, espécie de elogio, comoveu. Eu não tinha noção – embora fosse de se esperar, pois a praia de P. é o detalhe – de que minhas mãos merecessem. Muito menos tanto tempo e ausência depois.
Acabou que naquele dia fiquei olhando para as minhas mãos mais do que de costume. Tentei me lembrar como elas eram, para entender como elas estão. Ainda são branquinhas. Mas nem tanto, o sol campineiro é mais implacável que o paulistano. O que, nesse ponto, confere à terra da garoa um fator a mais de proteção, ainda que solar. Continuam com sardas. Há nove anos uma aliança vive na mão esquerda, sem ter passado pela direita. Não são mais mãos jovens, com fome de mundo, como aquelas que P. conheceu. Tampouco são as mãos da última vez que nos vimos – já mudaram. Longe de serem santas, elas envelhecem com o resto do meu corpo, no mesmo compasso, nem adiantadas, nem atrasadas. Elas escrevem, desesperadamente escrevem. E hoje já fazem menos sinais feios no trânsito. Sim, as mãos também criam juízo.