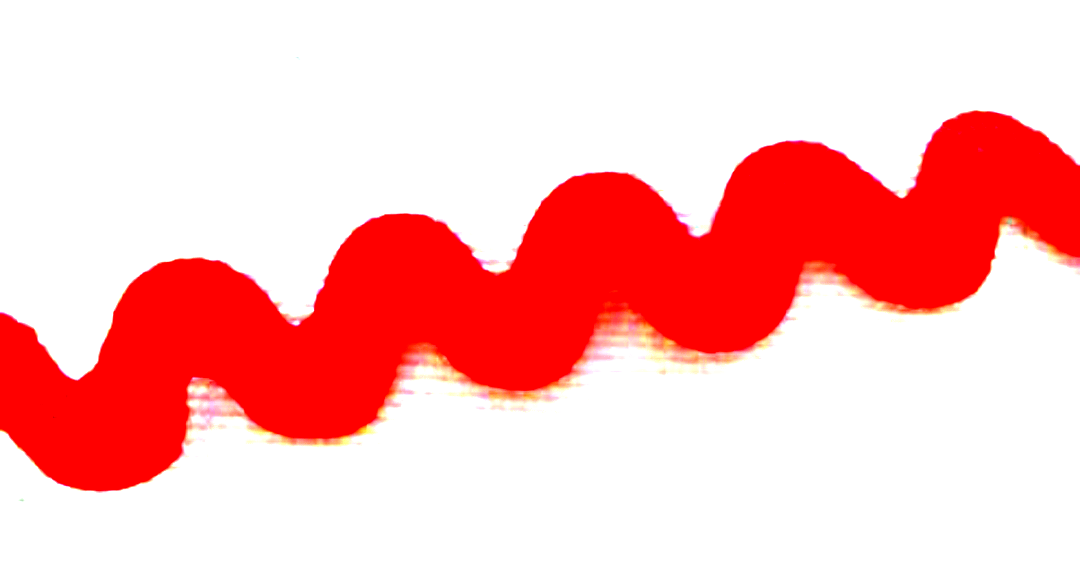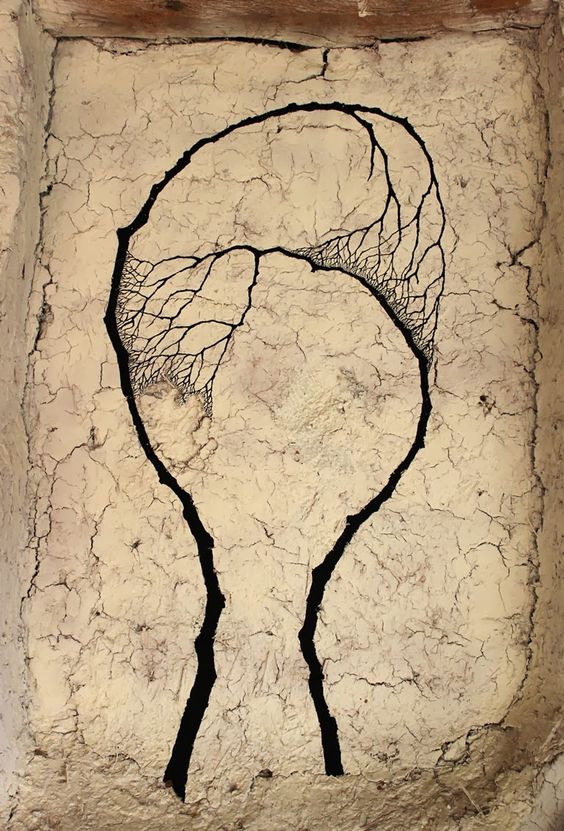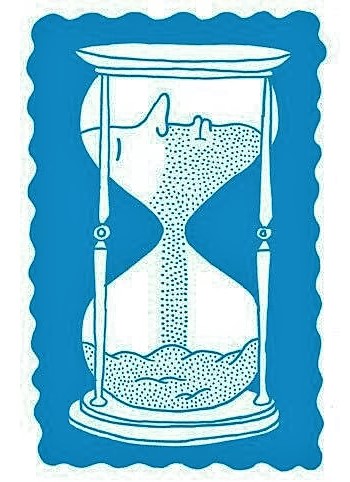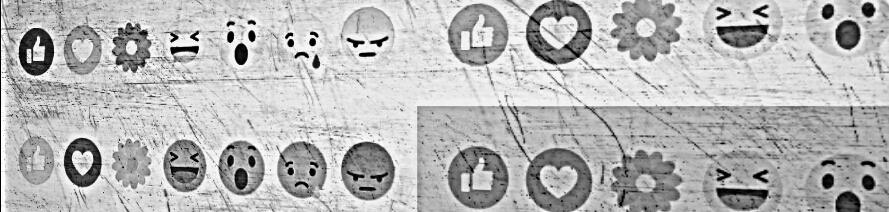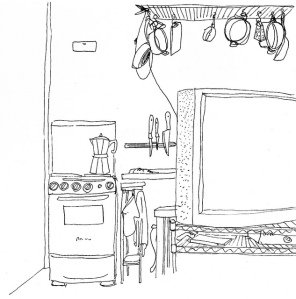Havia mais, dentro da caixa de papelão. Aquela, há tempos encostada no corredor. A da etiqueta invisível, “Depois eu vejo”, e que, um dia, resolvi ver. Nela, entre outras preciosidades, parte de um antigo enxoval de bebê, pertencente a nós, os três filhos de Angelina e Antonio. Uma touquinha de tricô, pagãozinhos bordados, um xale de lã. E o vestidinho azul.
Enodoadas e meio esfareladas pelo inclemente tempo, não houve saída para as roupinhas, a não ser o lixo. O xale, inexplicavelmente em bom estado após meio século e tanto, teve fim mais nobre e foi embalar algum bebê rechonchudo; é o que disse a moça da igreja, quando levei a sacola.
E o vestidinho azul.
Por pouco não foi embora também. Cheguei a colocá-lo junto ao xale. Tirei. É que a memória apitou, feito um trem quando atravessa a neblina da serra. Olhei as rendinhas, tão delicadamente costuradas. No peito, um pequeno enfeite em forma de flor, trançado em linha, numa técnica que não sei o nome. Vesti-me duma espécie de epifania misturada com déjà vu. Esse não vai embora, não.
Dia seguinte, mostrei à irmã a foto que fiz dele com o celular. “Era seu?”. Ela devolveu na hora: “Não. O azul era seu. O meu era igual, só que rosa”.
Estava explicado por que eu não fora capaz de me desfazer dele. Tão pequeno, como pude caber nele? Eu tinha, quanto?, dois ou três anos. Nas minhas mãos, pareceu-me roupa de boneca. Devo ter sido criança miúda. Está certo que o tempo encolhe as coisas. Repare: até as pessoas, quando ficam velhas, encolhem. Estão tentando descrescer.
Minha irmã lembrou de nossa mãe fazendo os dois vestidinhos em sua máquina mágica de costura, que ampliava os tecidos, esticava as linhas, virava a vida do avesso, fazia milagre, enfim, com o orçamento sempre tão curto. No final das contas, estávamos sempre bonitinhos, meu irmão, minha irmã e eu. Costurar é contar uma história.
Qual terá sido o primeiro passeio que fiz com ele? E qual será o último que fará? Aprisionado na caixa por tanto tempo, hoje ele está engruvinhado, desbotado. É nem sombra da peça graciosa que um dia foi. Saibam todos, porém: o meu vestidinho era lindo, lindo. Azul da cor do mar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir.