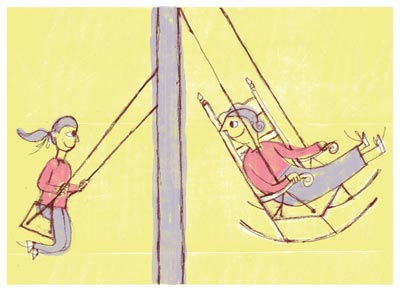Contabilizo, com o que inicia nas próximas horas, meu 51º ano novo. Sou dona, portanto, de cinco décadas de anos velhos.
Anos passados merecem respeito. Lembra? “Respeite os mais velhos”. Apesar disso, nem sempre cuidamos bem dos nossos velhos. E eles têm muito a ensinar. Ano velho também dá no couro, tem gás, pode ser útil. Não precisa se aposentar e ficar o dia inteiro de pijama (embora ficar o dia inteiro de pijama seja a quinta-essência). O fato é que ano velho não merece o adeus da velha canção, em contraponto à (incerta) felicidade do que está por vir.
O reveiôn a gente passava em casa, tinha comida especial e roupa bonita. Alguém estourava o champanhe barato e o ano novo estava oficialmente inaugurado. Depois da meia noite, os amigos da minha irmã, mais velha que eu, passavam em casa, para de lá irem às casas de outros amigos, formando uma comitiva em homenagem ao ano estreante. Se o Natal era em família, Ano-Novo deveria ser entre amigos. Eu não via a hora de ser grande para fazer o mesmo. Cresci e isso não aconteceu. As vontades mudaram, os amigos envelheceram. Alguns morreram novos, permanecendo assim nas lembranças. A morte congela a idade. Quem morre jovem se divorcia do tempo e não envelhece nunca.
Confundia-me ao escrever Réveillon. Errava o lugar do acento, dobra o L ou não? Certeza, só a de que mais cinco meses e seria meu aniversário. Aniversário é o ano novo da gente.
Aprendi depois que réveillon é uma palavra francesa, derivada do verbo réveiller, que significa despertar, acordar, no sentido simbólico. O que não deixa de ser interessante; no réveillon a gente não tem hora para dormir.
Tem gente que desfila, com pompa e orgulho, sua galeria de anos velhos pelas fotografias da estante. Há quem os coloque no asilo da memória. E só os visite – que ironia – uma vez por ano. Ou nem isso.
O reveiôn da minha infância não se parece em nada com o Réveillon da minha adultice, exceto pela similaridade calendárica. Aquele, sem L e sem sotaque estrangeiro, perdeu-se em algum ano velho e eu não consigo mais encontrar.
A gente tem saudade de ano velho, não de ano novo. Ano velho é porto seguro. É colo familiar, cheiro sabido, música conhecida. Ano novo é incógnita, palpite, candidato a ser feliz.
Com quantos anos velhos se faz um ano novo?