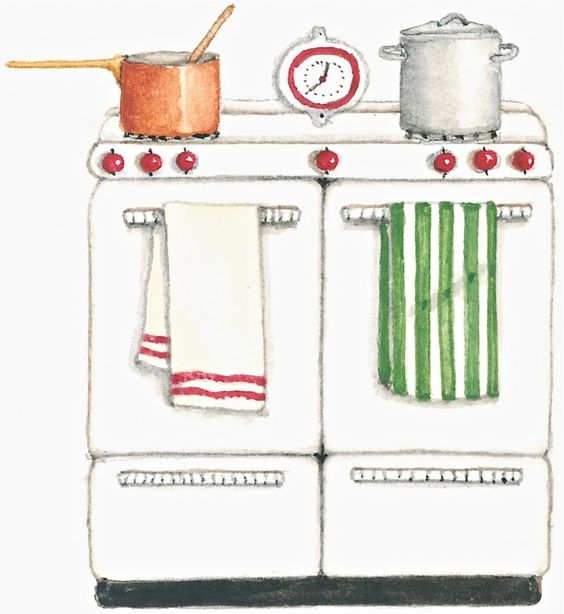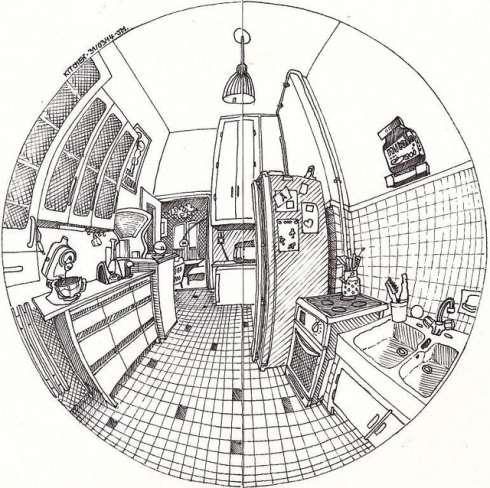Lembrei de quando a família aderiu, em meados dos anos 80, à modernidade: agora também tínhamos freezer e micro-ondas. Não é só a vida que vem em ondas, meu bem. As lembranças também.
Antes da dupla, panelas de arroz, feijão e mistura eram feitas para durar dias. Para economizar tempo e, talvez, dinheiro. Não havia a frase resolvedora das sobras alimentares: “Congela”. Do Continental 2001 verde, as panelas iam para a velha Prosdócimo azul. Da geladeira (quem é que guarda panela na geladeira, hoje?), de volta ao fogão e, voilà!, almoço e janta requentados. Cozinha é inverno e verão, onde yin e yang fazem a farra.
Com a chegada dos dois, a dinâmica da cozinha mudou: era possível fazer comida para um batalhão, congelar em porções e ir descongelando conforme a necessidade. Adeus, rango requentado. Agora, só arroz e feijão ‘fresquinhos’, como se dissessem: “Faz de conta que fomos feitos agora”.
Animados, contratamos uma cozinheira para, num dia só, preparar vários pratos. A moça chegou cedinho. Inspirada, talvez, nos avisos dos ônibus, “Fale ao motorista somente o indispensável”, a moça não me deu a menor trela e se concentrou no cardápio. Não queria perder tempo, que tempo é comida. Num instante se familiarizou com fogão, pia, mantimentos, escumadeiras, facas. Nossa cozinha foi transformada em linha de produção, “Saindo a lasanha”, “Frango ao molho pardo tá pronto”, “Onde coloco o risoto?”. Perguntou se queríamos macarrão à carbonara. Perguntei o que ia. Explicou, topei. E mais nada. Sequer trocamos uma ideia sobre carbonara vir do italiano carbone, que significa carvão, ou sobre as lendas que envolvem o nome da iguaria. Achei um acinte, onde já se viu cozinha sem prosa?
Só sei que, naquele dia, embalei cento e quarenta e quatro porções de arroz, em caprichados pacotinhos. Em casa, cada um fazia suas refeições em horários diferentes, tudo tinha que ser individual. (Sei também que, até hoje, se vejo macarrão carbonara, é da cozinheira de poucas palavras que me lembro.)
Animados II, meu irmão foi ao McDonald’s e pediu uma dúzia de Big Macs – “Sem alface, é pra congelar”. E o jingle, na casa 1 da vila, ficou capenga: “Dois hambúrgueres, (silêncio), queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim”. Dois minutinhos no micro-ondas, bicho.
Com o tempo, deixamos de ser um lar povoado e cada um foi cuidar da sua vida – uns, dos seus pós-vida. O velho freezer, do tamanho de uma geladeira, deixou de ser fundamental e passou a ser estorvo. Desligado, continuou lá, de enfeite. Até que demos fim nele. O forno de micro-ondas, no entanto, resistiu bravamente até o último Franco sair de lá. Sei que estou velha quando me pego dizendo, “Aquele que era bom”.
Como disse, não é só a vida que vem em ondas. As lembranças também. E eu, que faço questão de manter muitas no meu freezer particular, vou descongelando uma a uma. Feito os pacotinhos do arroz. O sabor fica um pouco diferente, nada é assim tão fresquinho. Mas eu me farto mesmo assim.