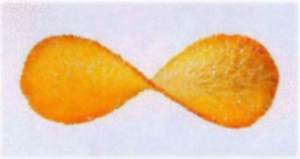Tinha que ser nhoque de batata, naquele domingo. Igual ao que minha mãe fazia. Não haveria, porém, a menor graça em comprar pronto. Ir ao mercado, pegar pacotinho na prateleira refrigerada, código de barras, data de validade, informação nutricional, CPF na nota, obrigada, eu que agradeço, bom dia, pra você também, próximo. Nada disso.
Não cheguei a aprender a receita com dona Angelina, então tive que me virar com a internet. A internet também é uma mãe.
Tablet na bancada, ingredientes alinhados, linha de montagem planejada. Cadê a vasilha? Ih, não tenho. Quer dizer, tenho. Mas quando vou fazer alguma coisa maior, esparramo tudo. É vasilha boa, mas às vezes é pequena, apertada.
Na rua de baixo tem um mercadinho. Vendinha de bairro. Uma alternativa à complicação dos supermercados: não preciso descer até o G2, não pego tíquete de estacionamento e, portanto, não preciso validá-lo no caixa; não ando oito corredores para alcançar o que quero. Está certo que na vendinha só tem um tipo de manteiga, dois de xampu e três de macarrão. Mas tudo na vida tem um preço. E o do mercadinho costuma ser mais em conta.
Calcei os sapatos, fui e voltei com uma bacia verde de plástico. Grandona, espaçosa. A felicidade custa três reais e noventa, meu bem.
Chamei a Nina, ela queria ajudar a preparar a massa. Seguimos o passo a passo da receita, fantasiei secretamente que era minha mãe ensinando. E que ela estava encarapitada no armário, invisível, feito os anjos dos filmes, rindo do meu cabelo enfarinhado e admirando a neta que não conheceu.
Enquanto misturava os ingredientes reparei que, além de bacia, preciso de uma vida maior, também. A minha é boa, mas às vezes é pequena, apertada. Quando penso em fazer alguma coisa maior, esparramo tudo. Acabo reproduzindo apenas as velhas receitas de viver que nela cabem, ao mesmo tempo em que vou inventando desculpas para não arrumar logo uma vasilha-vida maior.
Saquei o macete da massa – dona Angelina que soprou, lá do topo do armário –, que é não amassar demais, nem usar força. Não se sova massa de nhoque; não compreendo como isso não é ensinado no Fundamental. Caso contrário, sempre se precisará de mais e mais farinha, e a gororoba será incomível. O principal ingrediente de um bom nhoque, aprendi, não é batata. É delicadeza.
Fizemos as “cobrinhas” com a massa, como eu chamava quando era criança. Fomos cortando com a faca, igual minha mãe fazia, e enfarinhando os nhoques para não grudarem. Nina e eu comemos um montão, crus mesmo. Do mesmo jeito que eu comia quando tinha a idade dela. Senti-me numa reprise de um domingo qualquer da década de 70 na velha casa da Mooca, só que com outros personagens. Se a vida se repete, que seja na base do nhoque.
Ficou igualzinho ao da dona Angelina. Tão bom, que desconfio que ela veio acertar o ponto da massa, bem naquela hora que eu atendi o interfone e a Nina foi colocar um elástico nos longos cabelos castanhos.
Nhoque pronto, ajeitamos a mesa, as cadeiras e chamamos todos. Pena que ela não veio para almoçar com a gente. Ou veio.