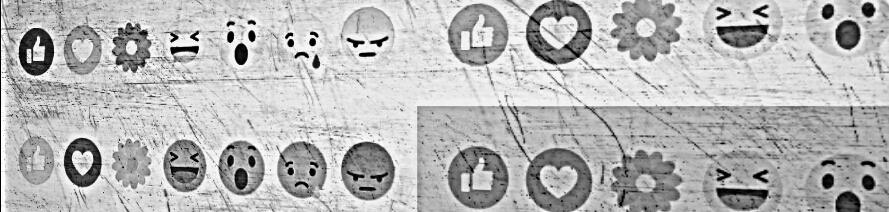Fui preencher o cadastro na internet, tinha que informar a data de nascimento. Dia, 7. Mês, 5. Fácil. Já o ano em que vim ao mundo se situava a, no mínimo, dez rolagens na tela. Quem manda ter mais de meio século?
A cada ano exibido, fiz instantânea e aleatória retrospectiva. Pulei alguns, me ative a outros. Quando dei por mim, havia feito um breve apanhado da minha existência neste plano.
2020 é ano que nem acabou e já tem informação demais. E 2019, por enquanto, leva o mérito de ter sido véspera de um ano muito louco, do tipo “éramos felizes”. Segundo livro publicado em 2016, o primeiro em 2012, o blog em 2009, depois de dois anos em uma gaveta digital. Em 2006 nasceu Nina. Luca, em 2004. Com eles, a certeza de que ter filhos é como pintar os olhos; um sai sempre diferente do outro.
2001, 11 de setembro. Grudada na TV, atendendo ao telefone e dizendo que estava tudo bem. Um ano antes, dei à família, no atacado, as notícias: estou namorando, vou morar com ele, vamos nos casar, nos mudaremos de país. Nos anos anteriores, trabalhei, fiz terapia, tai-chi-chuan e bronzeamento artificial. Comprei bolsas e sapatos compulsivamente, e quase morri de amor pelo menos duas vezes.
Rolei até 1988. Meu primeiro estágio, no Museu do Ipiranga, nome artístico do Museu Paulista. E o primeiro salário torrado praticamente inteiro em uma calça jeans Ellus. 1987: no Dia dos Namorados, Dona Angelina, eterna namorada do meu pai, morreu. Eles, que se conheceram em um Dia de Finados. Eu tinha vinte anos e descobri uma relação especial entre amor e morte.
Em 1986 entrei na faculdade de Comunicação Social. Estranhei; a maioria dos alunos chegavam e iam embora de motorista particular. E usavam botinha de camurça da London Fog. Original! Foi em 1985 que a ficha caiu: o colégio técnico em Edificações não era para mim. Fui, então, fazer cursinho no Objetivo da Vergueiro, decidida a ser publicitária. No ônibus de volta para casa, curiosamente, quase todos os dias tocava “Tempo Rei”.
1984, ano de aventuras perigosas, impensáveis em qualquer época: ir com a irmã e as amigas para Ubatuba, de carona, solicitada na base do dedão em plena Rodovia Dutra. Deus deve ser muito meu chapa. Em 1983, após longa espera, instalaram nosso telefone. Plano de expansão da Telesp. Fui a última da turma a ter um em casa. Talvez, por isso, eu ainda me lembre: 948-3443. Em 1982, pela primeira vez, saí da Mooca, meu bairro-mundo, para estudar em outro canto da cidade. Do professor de português, os primeiros incentivos para escrever. Nunca mais o vi. Até hoje jogo seu nome no Google.
Primeiro namorado em 1980. Íamos de moto passear no Parque do Ibirapuera, ambos sem capacete e sem juízo. Não há dúvida de que Deus é meu chapa, bróder supremo protetor. Tirei meu RG em 1979. A foto 3×4 não é das melhores; estava no finzinho do sarampo. No mesmo dia, minha mãe fez o dela. Seu RG é um número antes do meu. Ela não precisa mais dele, desde que se foi. Eu sigo aguardando minha vez de ir. Meu RG é uma espécie de senha com Deus.
Em 1973 entrei na escola, pré-primário com a Tia Neide. A contragosto, participei de uma peça de teatro. Minha fala começava assim, “Eu era uma sementinha…”. Foi em um gibi do Mickey que consegui, sozinha, ler minha primeira frase. Se hoje, com cinco anos, uma criança não só lê, como escreve, declama e faz vídeos no Tik Tok, em 1972 aquilo era quase uma proeza.
1970, Copa do Mundo. Minha mãe estourando pipoca na panela. Ela desliga o fogo, passa a pipoca para a vasilha, pulveriza o sal, encosta a porta da cozinha e me chama para a sala. Meu pai e meus irmãos já estavam em frente à TV, prontos para a torcida. E, se 1968 foi o ano que não terminou, foi nele que eu comecei a andar e a falar.
Cheguei, enfim, a 1967. Dei enter. E meu cadastro neste mundo é concluído com sucesso.