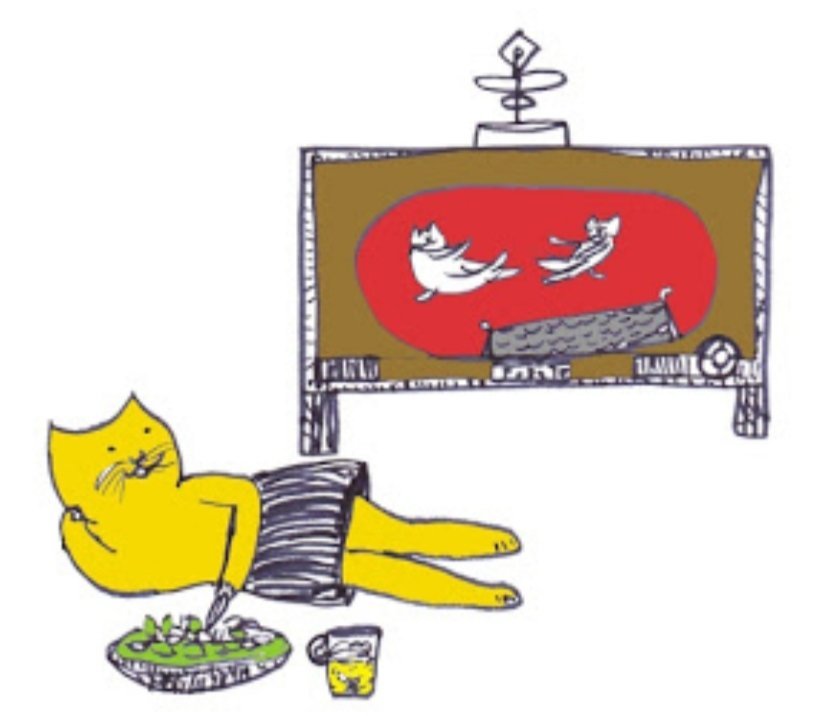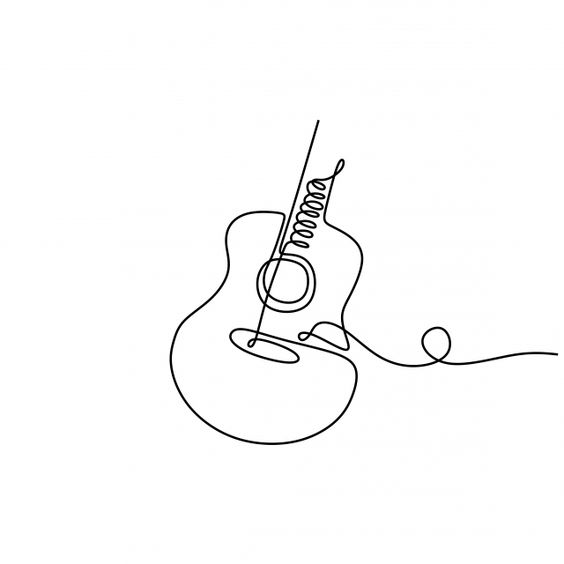– Vai, moço! Corre, que dá!
À nossa frente, o ônibus segue seu itinerário. Na calçada, o moço de mochila nas costas, em desabalada carreira (tão bonito, “desabalada carreira”), tenta alcançá-lo. Falta pouco. Mas pé não é roda, difícil competir. A distância entre os dois aumenta.
No jogo Passageiro Atrasado x Ônibus No Horário, sempre torci pelo passageiro. Testemunhei tantos. A mulher de salto que, sem hesitar, arrancou os sapatos para correr e chegar a tempo no ponto. O senhorzinho apertando o passo, segurando o bolso da camisa, cada passo um palavrão. A ruidosa galera do colégio, que mais parecia estar numa gincana. Eu, de nova, nunca corri atrás de ônibus. E o medo de me estatelar no chão? Fora a vergonha de não conseguir. As pessoas na rua olhando, penalizadas. Vergonha também caso fosse bem-sucedida; os passageiros olhando, curiosos, a menina esbaforida e desajeitada com aquela estranha régua T, apetrecho fundamental nas aulas de desenho técnico.
E o moço correndo, acenando ao motorista que não o vê. Meu carro, logo atrás do ônibus. A gente torcendo e sofrendo: “Vai, vai, vai!”. Só faltava a ola, que não dava pra fazer.
Ele desvia da menina toda fitness com o totó, dribla o buraco na calçada, pula o saco preto de lixo, quaaase!, ih não deu!
Dou sinal de farol para o motorista; ou ele não vê, ou finge que não vê. Prefiro acreditar na primeira opção. Colo no ônibus, buzinadinha de leve. O coletivo nada de diminuir, está quase na praça.
Como corre, o moço 2.0. Pés e fé inabaláveis.
No carro ao lado, quatro rapazes acompanham tudo e, como nós, torcem pelo moço. Resolvem encostar, um deles abre a porta e chama, “Vem!”. O moço, desfolegado, entra. O desespero promove súbita confiança. E se os quatro são frios e calculistas traficantes de órgãos, sedam o pobre antes que alcancem a Lagoa do Taquaral, onde sempre tem viatura da Guarda Municipal, retiram seus rins ali, no banco de trás mesmo, e abandonam seu corpo inerte em um fim de mundo qualquer?
Mas o plano dos rapazes, felizmente, é outro: ultrapassar o ônibus, que segue, alheio a tudo – embora já seja visível certo movimento de passageiros lá dentro. Conseguem! O carro para um pouquinho mais pra frente, o moço desce, vai dar!
Vai nada. O motorista do ônibus nem tchum, passa reto. “Não acredito!” – inconforma-se minha cunhada.
E o moço correndo. Obstinação? Prova na faculdade? Tem professor que não deixa entrar depois. O ônibus não era o trem das onze, mas se perdesse aquele… sabe lá quando viria o outro.
Nosso Usain Bolt parece que vai cortar caminho pela praça para chegar ao próximo ponto antes do ônibus, se é que vi direito. De repente, quedê? Perdemos de vista o velocista mochilão, e o coletivo desaparece avenida abaixo.
Nosso caminho, infelizmente, é outro. Jamais saberemos o desfecho da aventura, pois pequenos, mas não menos importantes, acontecimentos não são pauta para os jornais. Embora devessem. A manchete: “Universitário perde ônibus, sai em desabalada carreira (coisa linda!) e o alcança; comunidade vibra”. Pena, perdemos o final da história.
Perdemos nada.
Cruzamos o bairro. Quem emparelha conosco, por acaso, no sinal?
O carro dos rapazes, com o nosso herói. Pela sua expressão, seus rins estão intactos. E não é que eles vão levá-lo ao seu destino? É caminho, afinal. Não custa. Aposto como ficaram amigos, tiraram selfies, já estão se seguindo no Instagram, combinaram uma pelada para o fim de semana.
É como diz o ditado que acabei de inventar: quem acredita, nem sempre alcança o ônibus. Às vezes, alcança coisa melhor.